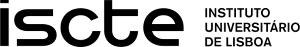Ficha Unidade Curricular (FUC)
Informação Geral / General Information
Carga Horária / Course Load
Área científica / Scientific area
Psicologia
Departamento / Department
Departamento de Psicologia Social e das Organizações
Ano letivo / Execution Year
2025/2026
Pré-requisitos / Pre-Requisites
Este curso é leccionado em inglês. Os elementos para avaliação podem ser realizados em inglês ou português.
Objetivos Gerais / Objectives
A unidade curricular de Psicologia Social do Envelhecimento pretende fornecer o quadro teórico para a compreensão do processo de envelhecimento numa perspectiva psicossocial, enquadrada na teoria gerontológica. Procura sensibilizar os(as) estudantes para os desafios sociais e demográficos contemporâneos, em particular os associados ao aumento da longevidade, incentivando a análise crítica das políticas sociais e dos fatores psicossociais que influenciam este processo. Através de uma abordagem aplicada, visa desenvolver competências que permitam articular conhecimento científico com a intervenção prática, preparando os(as) estudantes para atuarem como agentes de transformação social neste domínio.
Objetivos de Aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes
O aluno(a) que complete com sucesso esta unidade curricular será capaz de: OA1. Definir o conceito de envelhecimento, enquadrando-o numa perspectiva biopsicossocial e de curso de vida OA2. Identificar os principais desafios e políticas sociais na área do envelhecimento e suas implicações para a intervenção OA3. Distinguir a abordagem psicossocial do envelhecimento de outras abordagens no campo da gerontologia OA4. Descrever as principais teorias sobre envelhecimento e relações sociais OA5. Definir o conceito de idadismo e discutir as suas consequências ao nível individual, interindividual e social OA6. Aplicar o conceito de idadismo a casos concretos em análise OA7. identificar o que são ambientes amigos da idade (age-friendly environments) OA8. Aplicar o conceito de age-friendly cities na avaliação de casos concretos OA9. Definir o conceito de cuidador e identificar os seus principais desafios OA10. Definir estratégias de intervenção na área da Psicologia Social do Envelhecimento
Conteúdos Programáticos / Syllabus
CP1. Introdução à Psicologia Social do Envelhecimento. CP1.1. Definição de idade, envelhecimento e políticas de envelhecimento ativo. CP1.2. Perspetiva biopsicossocial: mudanças físicas, cognitivas e sociais. CP1.3. Perspetiva psicossocial na teoria gerontológica. CP2. Envelhecimento e relações sociais. CP2.1. Principais teorias: desinvestimento, atividade e seletividade sócio-emocional. CP2.2. Isolamento social, solidão e intervenção. CP3. Representações do envelhecimento e idadismo. CP3.1. Conceito, prevalência e consequências. CP3.2. Determinantes e intervenções. CP4. Perspetiva da gerontologia ambiental. CP4.1. Ambientes amigos da idade e “aging-in-place”. CP4.2. Justiça espacial e envelhecimento. CP5. Limites da longevidade e cuidados a pessoas idosas. CP5.1. Conceito de “quarta-idade” e suas necessidades. CP5.2. Conceito de cuidador e suas necessidades. CP5.3. Intervenções psicossociais com cuidadores.
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the curricular unit's content dovetails with the specified learning outcomes
Na presente unidade curricular, todos objetivos de aprendizagem (OA) são concretizados em conteúdos programáticos. O conteúdo programático 1 pretende concretizar os objetivos de aprendizagem 1, 2 e 3. Neste ponto introduzem-se noções essenciais ao nível dos conceitos e políticas na área da psicologia social do envelhecimento. Segue-se o ponto 2 do programa, onde se aborda o tema das relações sociais no envelhecimento, indo ao encontro do objetivo de aprendizagem 4. Por sua vez, o conteúdo programático 3 (i.e., idadismo) pretende concretizar os objetivos de aprendizagem 5 e 6, o conteúdo programático 4 (i.e., age-friendly environments) vai ao encontro aos objetivos de aprendizagem 7 e 8 e o conteúdo programático 5 pretende concretizar o objetivo de aprendizagem 9. Finalmente, o objetivo de aprendizagem 10 é concretizado em vários pontos do conteúdo programático, sempre que se abordam estratégias de intervenção em diferentes domínios como nos pontos do programa 2.2., 3.2., 4.2 e 5.2.
Avaliação / Assessment
Em regime de avaliação ao longo do semestre, os(as) estudantes realizam: 1. Dois trabalhos individuais (cada um contando 25% da nota final, total de 50%), discutidos em aula. A presença nas aulas de discussão é obrigatória, e os(as) estudantes deverão iniciar o debate com base numa resposta individual escrita realizada em aula, apoiada no trabalho previamente realizado em casa. Esta resposta é recolhida pela docente, mas não é objeto de avaliação, servindo como base para a discussão em sala de aula com os colegas. 2. Um trabalho de grupo (50% da nota final), envolvendo investigação-ação participativa e reflexão crítica sobre casos concretos. Todos os trabalhos devem ter uma nota mínima de 9,5 valores. Os(as) estudantes que não estiverem inscritos ou que reprovem na avaliação ao longo do semestre podem optar pela avaliação por exame, que contará 100% da nota final. A avaliação privilegia a capacidade de análise crítica, fundamentada em evidência científica, e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da unidade curricular.
Metodologias de Ensino / Teaching methodologies
Esta UC é composta por aulas téorico-práticas presenciais onde se articulam um conjunto de metodologias de aprendizagem, com forte carácter participativo e ativo por parte dos estudantes. Aliam-se momentos expositivos, para explicação dos principais conceitos e estado da arte, a metodologias participativas com exercícios em pequeno grupo através de debates,world-cafe, role-play e análise de casos práticos. A modalidade de avaliação ao longo do semestre permite também fortalecer a articulação entre metodologias expositivas, participativas e ativas. Por um lado, a utilização de técnicas de exposição participada no caso dos dois trabalhos individuais (com peso de 25% cada um na nota final), implicam a leitura e reflexão anterior sobre textos essenciais e aplicação a questões concretas, com posterior discussão em sala de aula e apresentação de conceitos teóricos. Por outro lado, a componente de avaliação ao longo do semestre compreende ainda um trabalho de grupo (50% da nota final) que consiste num exercício de investigação-ação participativo, onde se pede ao(a)s estudantes que reflitam sobre a realidade observada em função dos conceitos aprendidos na UC. Este exercício é enquadrado no âmbito de projetos de investigação em curso, promovendo assim a integração dos estudantes nestas práticas. Estão ainda previstas horas de trabalho autónomo e OT. As horas de trabalho autónomo previstas (i.e., 125h) destinam-se à leitura de textos de apoio às aulas e estudo (i.e., 18h) à realização dos trabalhos individuais (i.e., 50h) e à realização do trabalho de grupo (i.e., 57h).
Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da UC / Evidence that the teaching and assessment methodologies are appropriate for the learning outcomes
As metodologias de ensino encontram-se alinhadas com os objetivos de aprendizagem definidos. Por um lado, a utilização de metodologias expositivas permitem a aquisição de conhecimentos ao nível da definição dos principais conceitos na área da psicologia social do envelhecimento indo ao encontro da generalidade dos objetivos mencionados. Por outro lado, a utilização de metodologias participativas e ativas no decurso das aulas e na modalidade de avaliação ao longo do semestre permite ainda o cumprimento em especial dos objetivos de aplicação dos conhecimentos adquiridos a casos concretos (objetivos de aprendizagem 6 e 8) e na definição de estratégias de intervenção (objetivo de aprendizagem 10).
Observações / Observations
Bibliografia Principal / Main Bibliography
Ayalon, L., & Tesch-Römer, C. (2018). Contemporary perspectives on ageism. Springer Nature. Buffel, T., Yarker, S., & Doran, P. (Eds.). (2024). Reimagining age-friendly communities: Urban ageing & spatial justice. Policy Press. Carstensen, L.L. (1995). Evidence for a life span theory of socioemotional selectivity. Curr. Dir. Psychol. Sci., 4(5), 151–156. Cavanaugh, J.C., & Blanchard-Fields, F. (2017). Adult development and aging. USA: CENGAGE. Marques, S., Mariano, J., Mendonça, J., De Tavernier, W., Hess, M., Naegele, L., ... & Martins, D. (2020). Determinants of ageism against older adults: a systematic review. IJERPH, 17(7), 2560. Meehan, D.E., Grunseit, A., Condie, J., HaGani, N., & Merom, D. (2023). Social-ecological factors influencing loneliness & social isolation in older people: a scoping review. BMC Geriatrics, 23(1), 726. Schulz, R., Beach, S.R., Czaja, S.J., Martire, L.M., & Monin, J.K. (2020). Family caregiving for older adults. Annu. Rev. Psychol., 71(1), 635–659.
Bibliografia Secundária / Secondary Bibliography
Baltes, P. B., Lindenberger, U., & Staudinger, U. M. (2006). Life Span Theory in Developmental Psychology. In R. M. Lerner & W. Damon (Eds.), Handbook of child psychology: Theoretical models of human development (6th ed., pp. 569–664). John Wiley & Sons, Inc. Buffel, T., & Phillipson, C. (2024). Ageing in place in urban environments: Critical perspectives. Taylor & Francis. (Chapter 10) Foster, L., & Walker, A. (2021). Active Ageing across the Life Course: Towards a Comprehensive Approach to Prevention. BioMed research international, 2021, 6650414. https://doi.org/10.1155/2021/6650414 Marques, S., Vauclair, C. M., Rodrigues, R. B., Mendonça, J., Gerardo, F., Cunha, F., ... & Leitão, E. (2015). imAGES: intervention program to prevent ageism in children. SCML&LeYa. Nelson, T. (ed.). (2002). Ageism: Stereotypes and Prejudice Against Older Persons. MIT Press. Samora-Arvela, A., Marques, S., Eloy, S., & Montalvão, M. (2025). Analysis of active mobility and active aging: Insights on green street design and age-friendly policies in Portugal. Cities & Health, 1–17. Wahl, H.-W., & Oswald, F. (2016). Theories of environmental gerontology: Old and new avenues for person-environment views of aging. In V. L. Bengtson & R. A. Settersten (Eds.), Handbook of theories of aging (3rd ed., pp. 621–641). Springer. World Health Organization. (2021). Global report on ageism. WHO. World Health Organization. (2023). National programs for age-friendly cities and communities: A guide. WHO. Whitbourne, S.K. & Whitbourne, S.D. (2020). Adult development and aging: biopsychosocial perspectives. Wiley.
Data da última atualização / Last Update Date
2025-09-08